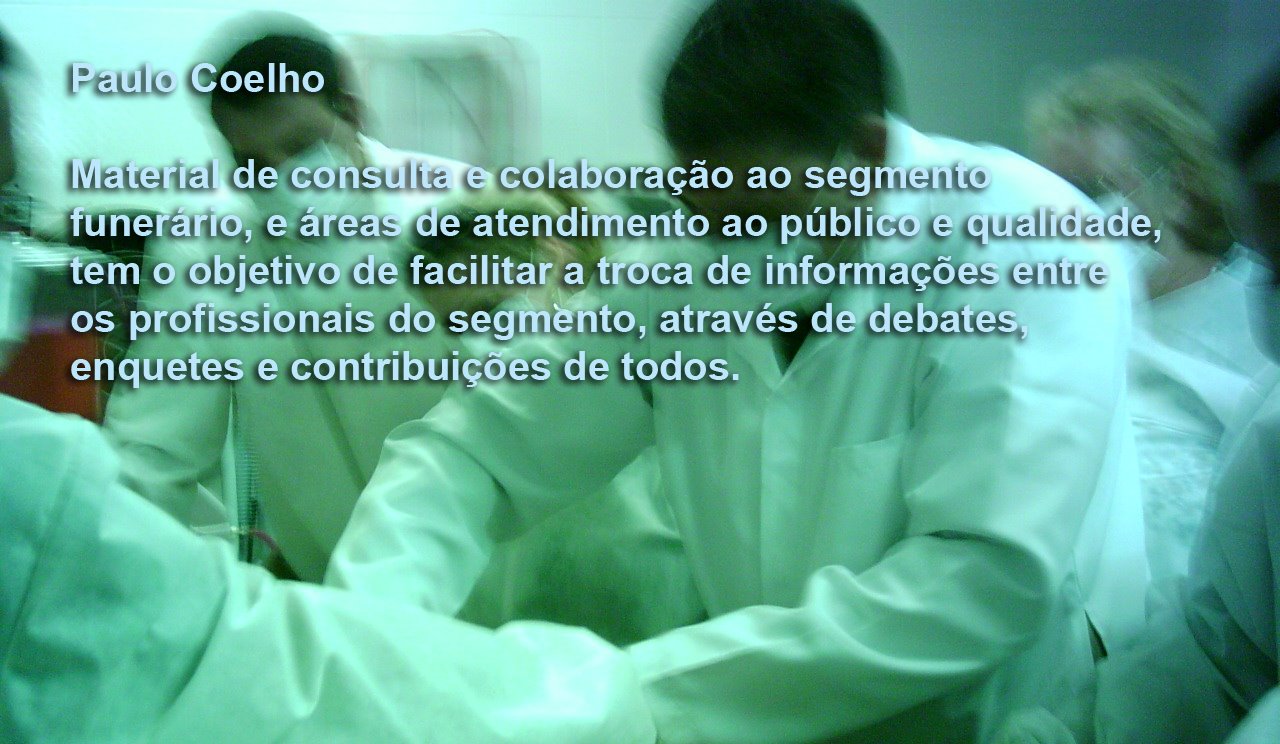Eu a vi primeiro nos corredores do Unibanco, na Avenida Missões, em 1990/91. Não havia conversa, só aquele olhar que reconhece antes de saber. Eu seguia, ela seguia — e a vida, silenciosa, tomava nota. Um ano depois, o destino mexeu nos relógios: troquei de setor e de horário e voltei a cruzar com a Andréa — a Déa dos amigos — aquela menina-mulher de sorriso claro e competência luminosa. Descobri mais tarde que ela também havia trocado de setor e horário; por isso o sumiço, por isso o reencontro.
No Carnaval de 1992, eu estava de viagem marcada para Laguna, ela iria a Florianópolis. A gente chegou a ensaiar mudar os planos, quase fomos juntos — quase. Foi a primeira vez que Santa Catarina entrou na nossa história, como quem acena de longe: “Nos vemos em breve.”
Ela trabalhava das 15h às 21h, eu das 20h às 2h. Nos dias de movimento, a dedicação dela se esticava em horas extras, e, não raro, saíamos juntos. Ofereci carona a ela e a uma colega algumas vezes. É curioso como a intimidade às vezes começa em silêncio: o barulho do motor, a cidade passando pelas janelas, a certeza mansa de que aquele caminho queria ser compartilhado.
Em 13/04/1992, o primeiro beijo. Ali, começou o namoro — rápido, intenso — com uma pausa entre julho e agosto, para nos reconhecermos por dentro, e a reaproximação, e na na véspera de Natal, no 24/12/1992, já com noivado. A vontade de estarmos juntos era gigantesca; as dificuldades também. Jovens, morando com familiares, a vida pedindo paciência a dois que só queriam ser um.
No Dia de Reis, 06/01/1996, às 21h, na Igreja Santa Terezinha, no Bom Fim, dissemos sim sob as bênçãos de Deus. Mais de duzentos abraços nos confirmaram o que a fé já sabia. Estava decidido: iríamos para Santa Catarina montar uma distribuidora de bebidas e morar em São José; a casa já estava locada para janeiro. Mas, no fim de dezembro, a empresa que representaríamos quebrou. Foi a primeira grande lição depois do sim: quando os planos desabam, o amor precisa aprender arquitetura.
Assumi a Funcionária São Carlos e fiquei quase quinze anos à frente. A Déa desistiu da Enfermagem e foi trabalhar no Hospital Mãe de Deus. Em 1997, nasceu a nossa Juliana — nome escolhido desde 1993, num passeio pelo Brique da Redenção (eu nem gostava tanto de ir, mas com ela até o mundo de domingo ficava mais bonito). Morávamos no Belém Novo, extremo sul de Porto Alegre, e eu me lembro do cheiro das manhãs frias entrando pela casa, como quem pede licença para acordar a esperança.
As mudanças vieram como ondas. Em 1998, mudamos para o Belém Velho. Em 2000, nasceu a Bibiana. E se eu pudesse desenhar aquele tempo, seria um mapa com endereços riscados, escolas trocadas, empregos que começam e terminam, contas somadas e, mesmo assim, uma mesa sempre posta para dois e, depois, para quatro. As mudanças criavam insegurança — sim, criavam — mas a nossa teimosia de futuro persistia.
Em 2013, o diagnóstico de câncer de mama. Descobrimos rápido, tratamos com cirurgia, rádio e quimioterapia. Nesse período, vimos quem ficou, quem segurou nossa mão. Não guardo mágoa de quem não pôde; guardo gratidão por quem esteve — e segue morando na nossa lembrança mais macia.
Voltamos a Porto Alegre. Fomos a Porto Belo e, numa dessas idas, o meu sobrinho Cássio lançou a provocação: “Venham morar aqui.” A Déa, sem pretensão, disse que seria ótimo. Na visita seguinte, a provocação voltou; planejamos para um ano ou um ano e meio — e aconteceu em menos de seis meses. No final de 2021, estávamos morando em Porto Belo. Santa Catarina aparecia pela terceira vez — e, desta vez, para ficar.
Em dezembro de 2022, as dores nos levaram aos médicos e, depois de alguns erros, veio o diagnóstico: câncer ósseo. Os guris, que até então moravam conosco, estavam com a Juliana, que vivia e trabalhava na cidade — o que tornou o tratamento mais tolerável pela proximidade. A Bibiana seguiu em Porto Alegre, sempre presente do jeito que a presença às vezes é: com tempo, estrada e um abraço que chega quando precisa.
Nossa decisão pós-diagnóstico foi aproveitar o agora. E assim fizemos, até o último momento: mais altos que baixos, mais alegrias que tristezas — embora eu saiba que as marcas do que doeu insistam em gravar seu peso na pele da memória. Ainda assim, quando fecho os olhos, o que volta primeiro é o riso dela, é a luz dos corredores do Unibanco, é o carro na madrugada, é 06/01/1996, 21h, Santa Terezinha, é 1997 com a Juliana no colo, 2000 com a Bibiana iluminando o quarto, é 2019 com dois meninos derrubando as formalidades todas da casa, é Porto Belo nos chamando pelo nome.
Se me perguntam o que ficou, eu respondo sem hesitar: ficou o que permanece. Ficou a Déa em tudo o que toco, ficou a nossa família estendida no futuro, ficou Santa Catarina como um capítulo escrito a lápis que virou livro encadernado, ficaram as meninas crescendo, os netos rindo alto, ficaram os amigos de verdade, ficou Deus nos intervalos.
E, enquanto escrevo, sinto que o amor — esse nosso amor — nunca precisou de trinta velas para acender. Ele acende com uma memória, com uma data, com a gratidão por esse tempo especial vivido. E segue. Porque o amor, quando é assim, não termina: muda de endereço, mas continua morando na gente.